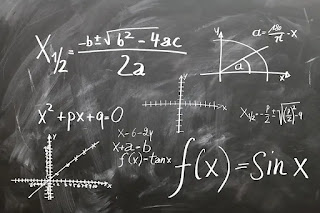O carro parou em frente à casinha.
Casinha simples, do interior. Até um dia desses uma tapera de taipa. Agora, de alvenaria. Mas ainda uma humilde casa de agricultores.
Do carro, saíram dois rapazes de vinte e poucos anos. O mais musculoso saiu falando alto.
– Seu Chico?
Da casinha, saiu um senhor de meia idade, moreno, pequeno, queimado de sol. Parecia surpreso, ou indeciso.
– Bota a máscara, Chico! – gritou lá de dentro Dona Mariana, sua companheira de vinte e cinco anos de vida em comum.
– A gente num tem Covid não, Dona Mariana – justificou-se o rapaz musculoso, fechando a porta do carro.
Seu Chico ficou sem ação, entre a porta da casa e o carro dos visitantes.
Foi quando apareceu uma moça usando uma máscara. Gabriela. Tinha dezoito anos, era bonita, pequena, morena, filha de Seu Chico e Dona Mariana – Toma a máscara,
pai – e entregou a Seu Chico uma máscara.
– Cadê a máscara, Josué? – perguntou Gabriela ao rapaz musculoso. – E a tua, Álvaro? – dirigindo-se ao outro rapaz, até então
mudo, e agora com um sorriso amarelo no rosto.
– Peraí, Gabi – Josué foi até o carro e voltou de máscara no rosto. Pela janela do carro, Álvaro também pegou sua máscara
e a colocou na cara.
Gabriela entrou, aparentemente chateada.
– Vam’entrar – anunciou, por fim, Seu Chico.
Os visitantes sentaram num sofá remendado. Gabriela trouxe dois tamboretes. Ofereceu um ao pai e ela sentou no outro.
– Senta ali, Gabi – apontou Seu Chico para o sofá.
– Não... Tá bom aqui.
Dona Mariana chegou na sala, ainda enxugando as mãos no vestido:
– Oh, por que vocês num avisam? Pra mim preparar um almoço melhozim... Matar uma galinha...
– Precisa não, Dona Mariana, a gente tá indo ali na fazenda de tio Zeca e resolveu dar uma passadinha aqui – explicou Josué.
Três pintinhos apareceram para catar minúsculos farelos de comida pelo chão da sala.
– Tange esses pinto aí, Gabi – ordenou Dona Mariana.
Gabriela levantou-se e foi em direção aos pintinhos – Sai, sai... – e voltou a sentar.
Josué a observou com olhos de cobiça.
– Pois é... – improvisou Josué, sem assunto.
– Pois é... – repetiu Seu Chico.
– Quem morreu ontem foi Damasceno, vocês souberam? – falou Álvaro, repentinamente.
– Quem? – perguntou Seu Chico.
– Damasceno, ex-prefeito. Morreu ontem em São Luís, de covid.
– Só tinha cinquenta e poucos anos, ouvi dizer – comentou Dona Mariana.
– Cinquenta e dois – completou Josué.
– Eu vou fazer um cafezim, cês deem licença – anunciou Dona Mariana.
Josué passeou os olhos pela sala, cuja pintura estava nova.
– Ficou bom, num foi Seu Chico?
– Ave Maria, ficou uma joia.
Eles estavam se referindo à reforma da casa, ainda recente.
– Diga a seu pai que mês que vem eu vou lá, dar um tiquim.
– Tem pressa não, Seu Chico, deixe terminar essa pandemia.
Gabriela desviou o olhar para a janela. Aquele assunto a aborrecia. Seu namorado, Josué, era de uma família tradicional, que há décadas comerciava materiais
de construção. A reforma da casa de Gabriela tinha sido custeada por Josué. Foi combinado que Seu Chico iria poder pagar aos poucos, quando sua condição econômica fosse favorável.
Se não estivesse de namoro com Josué, Gabriela não se sentiria no meio de um acordo comercial. Mas era assim que se sentia. Enquanto olhava pela janela da sala,
meditava sobre essa incômoda situação.
– Gabriela, Josué tá falando com você! – Seu Chico “acordou” a filha, tocando em seu braço.
– Sim, o que foi que eu perdi? – perguntou Gabriela, anunciando seu retorno à realidade.
– Tô perguntando se as aulas já terminaram, Gabi – quis saber Josué.
– Não, mas tá perto. Mas eu já passei.
– Essa menina é muito intiligente – elogiou Seu Chico. – Ano passado ganhou uns prêmio na escola. A professora disse que ela escreve bem demais! Benza
Deus!
– Tava pensando era longe! – insinuou Josué, indiferente aos elogios do pai à filha.
– Não, tava olhando o céu, como tá bonito pra chover – e, pela janela, Gabriela apontou as nuvens escuras, lá fora.
– Eita, que vai ser água! – surpreendeu-se Seu Chico, que até então ainda não tinha visto o temporal que se aproximava.
– Vai ter gente que vai já pra baixo da cama – disse Josué, sorrindo.
– Quem? – perguntou Álvaro.
– A Gabi. Ela morre de medo de chuva com relâmpago e trovão.
Gabriela olhou para o namorado, incomodada com o comentário sobre aquela fobia, que compartilhara em segredo com Josué.
Quando Maria Helena chegou, Josué não escondeu sua antipatia à amiga de Gabriela:
– Vixe Maria! – e virou o rosto na direção oposta. – Bora embora – e tocou a perna de Álvaro.
– Com licença, Seu Chico – disse Maria Helena, enquanto atravessava a salinha.
– Pode embocar...
Do interior da casa, Maria Helena chamou Gabriela.
– A gente tá indo, Seu Chico – Josué foi falando e levantando. – Até mais, Dona Mariana.
– Oxi, e essa pressa toda? O café! – gritou, da cozinha, Dona Mariana.
– É porque tá bonito pra chover e a gente quer ir antes da chuva. Tchau, Gabi, depois a gente se conversa – e Josué encostou o rosto no rosto da namorada.
Quando Dona Mariana apareceu na sala, enxugando, de novo, as mãos no vestido, Josué e Álvaro já corriam para o carro e a chuva, de fato, começava.
– Será que esse casório só sai depois que a covid passar? – perguntou Seu Chico. Mas enquanto o pai sorria, a filha, em silêncio ia para o quarto,
onde Maria Helena a esperava.
– Não tem combinação com vocês, né? – perguntou Gabriela, referindo-se à evidente recíproca antipatia entre Josué e
Maria Helena.
– Nem eu quero, Gabi.
– Mas vocês precisam se acertar. Se não, como é que eu fico nessa história? – perguntou Gabriela, enquanto a chuva estralava no telhado.
No fogão, Dona Mariana assuntou se o marido não estaria estranhando o namoro da filha.
– Hen-hein – concordou Seu Chico. – Eu perguntei pelo casamento.
– E ela, disse o quê?
– Nada, mas vou já perguntar de novo.
Alguns minutos depois, Maria Helena saiu do quarto.
– Já vai? – perguntou Dona Mariana.
– Vou, Dona Mariana, antes que esse toró deixe o caminho só aquela papa de barro liso – e saiu correndo, em direção ao início da estradinha
do povoado.
– Obrigado, amiga! – gritou Gabriela, mas o som da chuva abafou seu eloquente agradecimento e ela voltou ao quarto.
Josué se casa comigo.
Nós vamos morar em São Luís. No apartamento de Josué. Lindíssimo. Novíssimo. Condomínio top. Já conheço, já
me levou lá.
Temos um filho. Um menino lindo, chamado... Antônio, como meu vozim, o pai de mamãe, que eu amava muito.
No começo, Josué me traz flores, quando volta do trabalho. A pandemia continua. Com essa justificativa, ele diz pra eu não sair de casa, pra eu me proteger e
proteger nosso filho.
Passo o dia cuidando dos afazeres domésticos, cuidando de Antônio e fazendo comidas gostosas pra Josué. Minha única diversão são livros,
filmes, séries e redes sociais.
Um dia ele me pede pra ver minhas conversas no WhatsApp. Mostro. Ele passa meia hora com meu celular. Quando me devolve, excluiu vários contatos. A maioria, homens, ex-colegas
de escola. A única mulher excluída é tu, Maria Helena.
Me revolto. E ele me fala do vício que as redes sociais causam. Quanto tempo estou passando no celular? Muito tempo, é verdade...
No outro dia, ele chega mais cedo do trabalho, não terminei o almoço ainda e estou vendo um vídeo no YouTube.
“De novo, Gabi? Eu sei como acabar com esse teu vício!” Toma o celular da minha mão, corro atrás, peço o celular de volta, mas ele arrebenta
o aparelho na parede, corro pra pegar, ele corre também, nos abaixamos quase ao mesmo tempo e ele me afasta com uma cotovelada no rosto. Não vejo mais nada... Aliás, vejo... Do chão, eu vejo ele
pegar nos braços nosso filho, que está chorando, e levar pra longe de mim...
Agora ele chega, liga a TV, enorme, e coloca num programa que acha que é do meu agrado. Pede desculpas. Fala da pandemia, medo da Covid etc. etc.
Descobriu a minha indiferença, mas pra ele, tanto faz. De noite, quando tento sair da cama, ele me puxa de volta, me derruba, monta em cima de mim... e me estupra.
Essa é a rotina agora. Da janela do apartamento, me “divirto” olhando a vida lá fora.
Mas, quando tá bonito pra chover, fico ainda mais triste, porque lembro de quando eu era criança na roça... Não tinha “tudo” que tenho hoje,
mas – estranho, né? – eu era feliz...
Quando tava bonito pra chover e eu corria pra baixo da cama, vozim ia atrás de mim e dizia pra eu não ter medo, que a chuva podia até assustar, mas depois ela
ia fazer a natureza florir...
Josué agora me fecha no apartamento e leva a chave. Quando digo que preciso levar nosso filho pra brincar no parquinho, ele me proíbe. A desculpa é a pandemia.
Chove quase todo dia. Quando é chuva forte, com muito relâmpago e trovão, corro pra debaixo da cama. Levo Antônio comigo. A gente fica bem abraçadinhos,
lá em baixo. Josué chega. Sorri. Puxa Antônio de mim, diz que não vai criar filho frouxo como a mãe.
Dois dias de chuvas e ruas alagadas e relâmpagos e raios e trovões. Talvez por isso Josué esquece de fechar de chave a porta do apartamento. Quando descubro,
enfio umas roupas numa mochila, procuro um guarda-chuva, não encontro, agasalho Antônio com três camisas e duas calças e saio.
Estou com meu filho no braço, no meio da tempestade. Ainda tenho medo. Mas preciso ficar viva pra garantir que meu filho também viva e cresça como um bom homem.
Estou fugindo, água nas canelas, em alguns trechos. As marcas da violência ainda estão por todo o meu corpo. Procuro uma delegacia especializada. Sei onde encontrar.
Me preparei pra isso. Não volto mais para minha bela prisão, não quero mais ser torturada. Não posso deixar Josué impune.
Gabriela saiu do quarto com o celular na mão. Aproximou-se do pai, que tomava café, e colocou diante dele a tela do seu celular. Dona Mariana se aproximou:
– ‘Xeu ver também?!
– Vixe Maria! – balançou a cabeça Seu Chico. – Quem é essa coitada?
– Quem foi que fez uma maldade dessa? – completou Dona Mariana.
– Seu ex-futuro genro – respondeu Gabriela.
– Mentira!
– Verdade, mãe. Essa menina namorava com ele.
– Isso é mentira!
– Infelizmente, é verdade, Seu Chico. Além de fazer isso, ele ainda perseguiu ela depois. Ele tá proibido de se aproximar dela, a justiça proibiu.
– Então, casamento...
– Nem pensar, mãe!
E, depois de um tempo:
– Eu vou apanhar dele, vou viver presa num apartamento, mas um dia vou fugir com nosso filho, vou enfrentar uma tremenda tempestade e vou denunciar ele... E ele, então,
vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha... E sabe por quê?
Porque quando eu olhar pro céu bonito pra chover, eu não vou mais me esconder debaixo da cama!
E saiu, eufórica, toda sorrisos.
– Oxi... – monologou Seu Chico, sem entender direito.